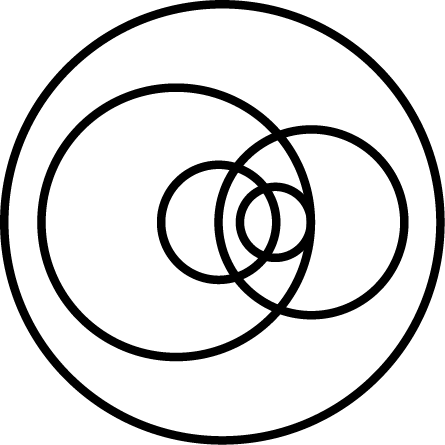Narcisismo, performance e a psicodinâmica de Lance Armstrong.

Minha trajetória no esporte sempre esteve atravessada pela busca por superação, disciplina e enfrentamento de limites, elementos que o triathlon sintetiza com precisão. Foi no triathlon que aprendi, antes de tudo, o valor da resiliência: a capacidade de sustentar o esforço diante do desgaste, de me reorganizar na dor por um período prolongado, de seguir mesmo quando a mente já pediu para parar. Essa experiência não se limita ao físico. Ela traduz movimentos internos, estratégias psíquicas, modos de lidar com a frustração e com realidades adversas.
Entre suas três modalidades, o ciclismo sempre exerceu um fascínio particular. É a partir dessa vivência que abordo o universo do ciclismo e a trajetória de Lance Armstrong, figura emblemática, polêmica e profundamente reveladora das tensões entre performance, identidade e limite. Seu percurso, para além da biografia esportiva, revela uma construção subjetiva tensionada entre potência e negação da falha, espelhando dinâmicas clínicas que envolvem o narcisismo, o recalque da vulnerabilidade e a compulsão por vencer.
Para quem não conhece o ciclismo de estrada, especialmente as grandes voltas, como Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta a España; ou as provas clássicas: Strada Bianchi, Paris-Roubaix, Milão–Sanremo, etc., a competição é moldada por estratégias coletivas e funções táticas bem definidas. Cada equipe tem ciclistas com papéis específicos: o líder que disputa a classificação geral, os gregários, que o protegem e controlam o ritmo do pelotão, os escaladores para as montanhas e os sprinters para chegadas rápidas. No pelotão, os atletas se agrupam para economizar energia com o vácuo, reduzindo o esforço em até 30%. Ataques e fugas tentam romper essa lógica coletiva, criando vantagem estratégica para o líder.
Na Europa, o ciclismo é mais do que um esporte, é uma paixão nacional em diversos países, com status comparável ao do futebol. Em lugares como França, Bélgica, Itália, Holanda e Espanha, as corridas de bicicleta mobilizam multidões, fecham cidades e são transmitidas ao vivo com cobertura intensa da mídia. Os ciclistas profissionais são celebridades, tratados como heróis nacionais e figuras de prestígio. Muitos deles recebem salários milionários, contam com patrocínios robustos e integram equipes altamente estruturadas, com preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos e engenheiros. Pertencem à elite esportiva não apenas pelo rendimento físico, mas também pelo papel simbólico que ocupam: representam resistência, superação, tática e sacrifício, virtudes que fascinam o imaginário coletivo europeu há mais de um século.
Entre as grandes estrelas do esporte, um nome se destacou por sua ascensão impressionante, domínio absoluto e, mais tarde, por um dos escândalos mais emblemáticos da história esportiva: Lance Armstrong. Ele surgiu no cenário do ciclismo como uma promessa precoce, combinando uma força física incomum, uma determinação quase selvagem e um ego blindado.
Lance Edward Armstrong nasceu em 1971, no Texas, Estados Unidos. Desde jovem, demonstrou um talento físico fora do comum e uma personalidade determinada, por vezes arrogante. Cresceu sem pai biológico e foi adotado pelo padrasto, Terry Armstrong, um ex-militar rígido. “Ele me ensinou a ser duro, competitivo, agressivo. Mas também me ensinou o medo,” relatou Lance, anos depois, à ESPN. A ausência de afeto e a exigência extrema formaram o caldo psíquico no qual se plantou um “EU” com sede de validação.
Começou sua trajetória como triatleta ainda na adolescência, chamando atenção pela resistência acima da média e por uma agressividade competitiva que beirava o confronto. A transição para o ciclismo profissional veio no início dos anos 1990, quando se integrou ao circuito europeu, um universo repleto de tradições e códigos não ditos, nos quais seu estilo direto, provocador e desafiador causava tanto espanto quanto admiração.
Em 1993, com apenas 21 anos, venceu o Campeonato Mundial de Ciclismo. Mas seu verdadeiro mito se construiu após um evento traumático: o diagnóstico de um câncer testicular em 1996, com metástase nos pulmões e cérebro. A recuperação foi considerada milagrosa. E o retorno ao ciclismo, triunfante.
No livro A Corrida Secreta de Lance Armstrong, escrito por Tyler Hamilton, ex-companheiro de equipe, Lance é retratado como alguém absolutamente obcecado pela vitória. A derrota simplesmente não fazia parte do seu vocabulário. Desde jovem, já exibia uma autoconfiança desmedida, sustentada por uma disciplina quase militar, uma frieza estratégica e um carisma que impunha respeito. Sua ascensão meteórica não foi apenas resultado de talento e preparo físico, mas da construção deliberada de uma personalidade voltada ao domínio total, traço que, mais tarde, se revelaria tanto sua maior virtude quanto a semente da sua ruína.
Sete Tours de France, um império e o mito do invencível
De 1999 a 2005, Armstrong venceu sete edições consecutivas do Tour de France. Nenhum outro ciclista havia feito isso. Ele transformou sua história em símbolo: Livestrong, sua fundação de apoio a pacientes com câncer, virou um fenômeno. O bracelete amarelo virou moda. Barack Obama o elogiou. O mundo o venerou. Mas Armstrong não era apenas um ciclista. Era uma marca, com uma identidade hiperpotente, imune à falhas e dúvidas.
Em entrevista a revista Vanity Fair ( 2015 ), Lance diz: “Eu era viciado em controle. Tudo precisava estar sob meu comando: a equipe, os treinos, os médicos, a narrativa, minha imagem pública.” Essa necessidade de controle é um traço clássico do narcisismo estruturante. Não o narcisismo banal da vaidade, mas o narcisismo como defesa contra o vazio interno. Um ego que não suporta rachaduras. Um self que precisa vencer sempre, porque perder é morrer.
Transtorno de personalidade narcísica
O transtorno de personalidade narcisista, sob a ótica da psicanálise e da terapia cognitivo-comportamental (TCC), é compreendido como uma organização psíquica marcada por uma busca incessante por validação, grandiosidade e controle, que encobre sentimentos profundos de inadequação e vazio. Na psicanálise, especialmente a partir das contribuições de Freud, Kohut e Kernberg, entende-se que o narcisismo pode se apresentar de forma estruturante, ou seja, como uma fase essencial do desenvolvimento psíquico, na qual a criança precisa se sentir vista, valorizada e idealizada para formar um senso coeso de self. Quando essa etapa é ferida ou insuficientemente sustentada, o sujeito pode construir uma armadura narcísica defensiva: um falso self grandioso que tenta compensar lacunas afetivas primitivas. Já pela TCC, o transtorno é visto como um padrão de pensamento rígido e disfuncional, sustentado por crenças centrais de superioridade, direito e autossuficiência, frequentemente ativadas por esquemas precoces de desvalorização, exigência e fracasso. Em ambas as abordagens, o narcisismo patológico se revela menos como expressão de excesso, e mais como proteção contra a dor psíquica de um eu fragilizado.
A história de Armstrong poderia ser lida como tragédia grega. Ele teve tudo: talento, fama, superação. Mas quis ser mais que humano, e como Ícaro, despencou por voar perto demais do sol. Sua trajetória pode ser lida sob o viés do narcisismo estruturante, não no sentido vulgar do termo, mas como uma condição onde a imagem idealizada de si próprio passa a ser o eixo em torno do qual tudo gira.
Na psicanálise, o narcisismo primário é um estágio essencial do desenvolvimento do ego, em que o sujeito investe libido em si mesmo. Quando esse processo não encontra espelhos suficientemente estáveis (pais, figuras de apoio), pode surgir o que Freud chamou de narcisismo patológico, uma armadura defensiva que esconde um ego frágil e ameaçado.
Sob a análise psicanalítica, Armstrong revela o drama de um sujeito que construiu um ego falso. Uma máscara que garantiu reconhecimento, mas sufocou sua verdade interna. Sua queda não foi apenas a perda de títulos, mas a implosão de um self que não conhecia a vulnerabilidade. Criou e habitou um personagem: o invencível. E para sustentar esse self idealizado, valeu tudo: do controle obsessivo sobre o ambiente à negação da realidade, passando por ataques cruéis a quem ousasse questionar sua verdade. Ex-colegas de equipe, jornalistas e médicos foram difamados ou intimidados. Do ponto de vista comportamental, Armstrong reforçou seu comportamento disfuncional porque colhia recompensas sociais massivas: dinheiro, poder, idolatria. Quando ameaçado, usava punições para manter o sistema. Um circuito perfeito até que a realidade rompeu o ciclo.
O doping como ritual narcísico
A queda começou a ser cavada no mesmo solo em que a glória foi plantada. Em 2012, após anos de rumores abafados por processos, ameaças e manipulações, a USADA revelou que Armstrong liderava o maior esquema de doping já registrado no ciclismo. Ele usava EPO, fazia transfusões sanguíneas e manipulava resultados com a conivência de médicos e dirigentes. Mas mais grave que isso: Armstrong intimidava quem tentasse desmascará-lo.
Na entrevista à Oprah em 2013, admitiu o uso de doping e outras práticas para melhorar a performance. Mas o que mais surpreendeu foi a frieza com que relatou o esquema, a ausência de culpa genuína, e as tentativas de manter a imagem intacta até o fim. O discurso parecia mais voltado à preservação de uma identidade do que a um verdadeiro arrependimento.
“Sim, usei substâncias proibidas.” — Mas sua confissão foi técnica, quase cínica. Sem lágrimas, sem hesitação, sem arrependimento genuíno.
“Você sente que traiu as pessoas?”, Oprah perguntou.
“Sim.” Ele respondeu
“E o que você sente sobre isso agora?”
“Eu sinto que é tarde demais.”
Era como se falasse de um personagem do qual se desligara. A verdade veio não como revelação, mas como cálculo. Afinal, até seu fracasso precisaria ser gerenciado.
Essa atitude não é apenas agressiva. Ela revela o que Kohut chamaria de fragilidade narcísica extrema: a verdade não pode ser aceita porque rompe a imagem idealizada. O doping, aqui, não é apenas trapaça, é o ritual de manutenção do ego idealizado. É uma estratégia de manutenção narcísica. Não se trata de performar melhor, mas de continuar sendo quem ele acredita que é: alguém que não pode falhar. Afinal, o narcisismo patológico não tolera a frustração da realidade. O corpo, moldado por treinos extremos e manipulado quimicamente, torna-se extensão do eu idealizado.
Lance não pedalava para chegar. Ele pedalava para fugir, da falha, do abandono. Do olhar que o rejeita. O Tour de France era o cenário épico no qual o pequeno Lance, ferido em sua origem, encarnava o herói absoluto. A vitória, um espelho que devolvia a imagem idealizada que ele precisava sustentar a qualquer custo. Essa lógica binária é típica do narcisismo: não há espaço para a ambivalência. Ou se é o melhor do mundo, ou se é nada. Sua negação persistente do doping, mesmo diante de evidências crescentes, pode ser lida como um mecanismo de recalque narcisico: admitir a verdade seria destruir o self idealizado, o que representaria uma espécie de morte psíquica. A confissão pública, ao contrário do que poderia ser um ato de elaboração simbólica, foi cuidadosamente roteirizada. É possível que não tenha sido feita por arrependimento genuíno, mas por cálculo. Afinal, até sua vulnerabilidade precisou ser performada.
Lance Armstrong não é apenas um atleta caído. Ele encarna, talvez como poucos, a lógica da sociedade de performance, o eu como projeto, a vida como vitrine, o corpo como produto. Um self que precisa ser constantemente validado, mesmo que à custa da realidade.
Do ponto de vista clínico, seu caso oferece um campo fértil para reflexões sobre os limites entre ambição e destrutividade, identidade e imagem, admiração e manipulação. O doping, nesse cenário, não é o centro da história, mas apenas o sintoma visível de um conflito mais profundo entre o que se é, e o que se quer parecer ser.
Hoje, Armstrong tem um podcast sobre ciclismo, dá palestras e tenta, discretamente, reconstruir sua reputação. Mas a pergunta que paira é: há reconstrução verdadeira quando o edifício foi erguido sobre um self idealizado?
Freud dizia que o narcisismo é necessário para a sobrevivência, mas sua hipertrofia pode se tornar destrutiva. Kohut, por sua vez, via no narcisismo não só uma falha, mas um grito por espelhamento, por reconhecimento legítimo não da imagem, mas do afeto.
Armstrong não é só um trapaceiro. É o retrato de uma sociedade que idolatra a performance e despreza a vulnerabilidade. Seu caso nos obriga a perguntar: quantos de nós vivem também personagens invencíveis para não encarar suas próprias fissuras?
A história de Lance Armstrong nos alerta para os perigos do sucesso não metabolizado, da imagem inflada, do ego sem freios. Mas também nos convida a pensar o quanto nossos heróis, e nós mesmos, estamos dispostos a encarar a verdade que nos fragiliza.
Talvez a última grande vitória de Armstrong ainda esteja por vir: não aquela que reconquista títulos, mas a que aceita falhar, sem precisar desaparecer.